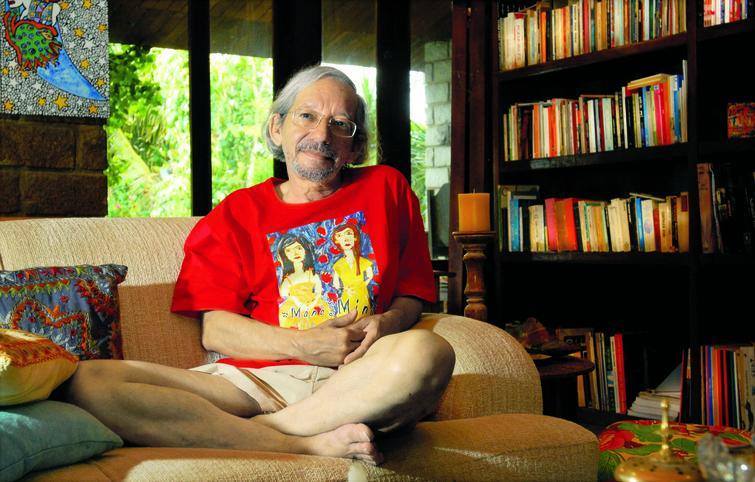Imagino que um artigo no “Estadão” tenha provocado esta nossa conversa, de modo que vou retomá-lo aqui, a partir do muito que se tem falado sobre a necessidade de ampliar e animar o campo democrático brasileiro. E o que venho ressaltando é que o Brasil não vai experimentar nenhuma guinada radicalmente democrática se não encarar pelo menos duas coisas. A primeira é que este campo democrático se empenhe numa revisão rigorosa do que fizemos, dos governos de Fernando Henrique aos governos petistas. A segunda é que tratemos de repensar a sociedade brasileira com o objetivo último de reinventar a nação.
Werneck Vianna passou pelo tema em entrevista recente, observando que o desentendimento a respeito de nossa trajetória histórica e dos nossos valores chegou a um ponto agônico: “Ninguém mais pode reconhecer na nossa história êxitos e sucessos”. Execra-se até mesmo a Abolição de 1888, luta democrática vigorosa que se arrastou por décadas, numa ampla coalizão de classes e cores. Enfim, “tudo que era da nossa tradição foi depredado, foi jogado no lixo”. Despreza-se a nossa história, desqualificam-se nossos feitos: o 13 de Maio, hoje, é “o dia do zootecnista”. Enfim, de algumas décadas para cá, submetemos a nossa história como povo e nação, a nossa experiência nacional, a um processo de avacalhação sistemática.
Mas vamos partir aqui da formação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que foi durante um século o nosso único centro de estudos históricos. A missão do Instituto, com Varnhagen à frente, era dizer quem éramos. Em termos geográficos, balizando o espaço nacional, situando rios e cidades, etc. Em termos históricos, definindo um elenco de feitos e personalidades exemplares, que definiriam a identidade nacional. Foi assim que se forjou a primeira história oficial do Brasil, gerada no tempo do império, em resposta a demandas surgidas com a conquista da autonomia nacional em 1822. Essa história forjou um passado brasileiro, quase o criou, produzindo mitos e mistificações. Celebrava a colonização lusitana, a monarquia constitucional, as classes dominantes, a “nação branca”. E isso perdurou. Mesmo em meados do século passado, a espinha dorsal dessa historiografia predominava, reinando nos meios letrados e nas escolas.
Foi então que certa esquerda brasileira se empenhou numa revisão dessa história. Mas se empenhou mal. Não tratou de encarar, em sua complexidade, a experiência nacional brasileira. Optou pelo maniqueísmo, pela visão do Brasil como um filme de bandido e mocinho. Repetiu a velha história, invertendo seus sinais. Passamos a ter então, basicamente, as figuras do negro luminosamente libertário, do índio ecofeliz e do português genocida. E isto se gravou nos parâmetros curriculares do ensino no governo de Fernando Henrique, este nosso conhecido colecionador de acertos inesquecíveis e equívocos inacreditáveis. Ou seja: esta história se converteu em práxis escolar, em rotina pedagógica, em ideologia historiográfica dominante. Configurou-se, enfim, como a nova história oficial do Brasil.
Acontece que esta nova história substituiu mentiras antigas por mentiras novas. O negro luminosamente libertário e o índio ecofeliz são duas empulhações. Havia escravidão tanto na África quanto entre nossos índios. A sociedade tupinambá era uma máquina de guerra implacável, destruindo outras sociedades indígenas, tomando-lhes as terras, etc. Palmares tinha escravos – e palmarinos sequestravam mulheres, negras ou brancas, para usá-las em serviços agrícolas e sexuais. Quanto ao português, é claro que não temos de celebrá-lo sem senso crítico, mas também não devemos tratá-lo apenas como eterno malfeitor, porque também isso é mentira. Qualquer pessoa, que de fato conheça a nossa história, sabe disso. Mas o que vingou, graças à ignorância generalizada, foi o panfletarismo rasteiro. É por isso que temos hoje de repensar o Brasil, de rever com serenidade e lucidez – com conhecimento, acima de tudo – a experiência nacional brasileira. Esta é uma tarefa fundamental. Temos de nos conhecer, em vez de ficar repetindo clichês direitistas ou esquerdistas falsificadores de nossa trajetória no tempo.
O binarismo maniqueísta é perfeito para quem não gosta de pensar. Nossa esquerda foi criada no cultivo do maniqueísmo, identificando o opressor (a classe dominante) ao mal e o oprimido ao bem – e foi assim que partiu para revirar pelo avesso a historiografia tradicional do país. Bem nos termos da retórica marxista, a classe dominante foi acusada de tudo e as classes ou os povos dominados passaram a ser celebrados irrestritamente. Não era preciso pensar: bastava denunciar o mal e celebrar o bem. Daí que conquistas nacionais passaram a ser objeto de negação, de ataque e mesmo de deboche. Nada era relativizável, nada era complexo. Mas não é só. Dividiram o país em um “nós” e um “eles”, ambos míticos. “Nós” teríamos sofrido tudo, “eles” teriam sido os culpados de tudo. Então, todos passaram a dizer: “eles” mataram índios, “eles” humilharam mulheres, “eles” depredam o meio ambiente, etc. Ou seja: “nós” não temos culpa alguma no cartório. Isso é terrível: a gente passa a tratar as coisas na terceira pessoa. Nos demitimos da responsabilidade diante de tudo que fizemos, como se tal demissão fosse possível. Se realmente quisermos levar o Brasil a sério, nos interpretando em profunda profundidade, teremos de aprender a dizer nós.
E o processo não parou. Textos e mais textos foram se multiplicando nesse horizonte maniqueísta e fraudulento. A apresentação da Estação Primeira de Mangueira, no carnaval de 2019, foi o desfile desta nova história oficial. Houve quem escrevesse que a escola de samba estava contando a história que não se encontra nos livros. Longe disso: o desfile da Mangueira foi desfecho de anos e anos de doutrinação, via livros, artigos, panfletos, cursinhos políticos, proselitismo militante, pregação em escolas públicas e privadas. Com todas as mistificações, que a esquerda cultua por má fé ou por desconhecimento. Foi assim que vi pessoas informadas, orgulhosas de se definirem no campo da democracia, aplaudindo: “vamos, com a Mangueira, saudar os malês”. Ora, os malês nada tinham a ver com democracia. Seu projeto incluía fuzilar os brancos e escravizar os mulatos. Aqueles negros islamizados eram africanos escravistas, que lutavam exclusivamente contra a sua própria escravização, mas não contra a escravidão em geral. Esta só foi combatida entre nós, enquanto sistema, pelo movimento abolicionista (que, aliás, contava com três pretos entre os seus cinco principais líderes: Luiz Gama, André Rebouças e José do Patrocínio).
E a desqualificação da experiência nacional brasileira se generalizou, rolando no reino do desconhecimento – e no espaço de uma sociedade bipolar, onde se vai da euforia à depressão num segundo, mas sob os signos constantes do masoquismo e da autodepreciação derivada da ignorância. Daí que ouçamos frases do tipo “é assim desde 1500, é assim desde as capitanias”. Mas é ridículo postular uma linha de continuidade entre Mem de Sá e a Odebrecht. A suposta analogia é fruto apenas da combinação de ignorância histórica e masoquismo nacional. Claro que temos um vasto elenco de coisas abomináveis em nosso passado. E que nação não as tem? Como bem disse Trevor-Roper, “a história é uma interação complexa e contínua de interesses, experiências e ideias, bem como – na melancólica expressão de Gibbon – o registro dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade”. Ao mesmo tempo, temos o quê comemorar. Falei do movimento abolicionista e de 1888, ainda hoje a nossa maior revolução social. Mas posso dar exemplos em vários campos. Enquanto os norte-americanos atiravam seus índios em terras estéreis, no semiárido das Montanhas Rochosas, o Brasil criou o Parque Nacional do Xingu, um paraíso ecológico maior do que Israel, quase do tamanho da Bélgica.
Mesmo nosso tão criticado espírito de conciliação merece ser visto com outros olhos. Quem o despreza, age como se só a guerra fratricida, com cidades bombardeadas e gente metralhada nas ruas, pudesse ser a glória ou a beleza suprema. Varnhagen celebrava a função socialmente purificadora da guerra. Celebração bélica que, mais recentemente, nos vem de comunistas e do futurista Marinetti – e que aqui entre nós podemos encontrar tanto num aristocrata como Paulo Prado, quanto nos delírios mais extremistas da esquerda, da “intentona” comunista de 1935 aos atentados terroristas da década de 1970. Um romantismo homicida, em suma.
Mas vamos adiante. Falando da França oitocentista em seu Diário, Michelet faz uma observação que se aplica à perfeição à atual conjuntura brasileira: “De todos os males deste país, o mais profundo, a meu ver, é que ele perdeu a consciência de si mesmo, a consciência de sua natureza, de sua missão, de seu papel nesse momento, a consciência histórica de seu verdadeiro passado”. Precisamos pensar sobre isso, com relação a nós. O Brasil, hoje, me parece justamente uma nação desencontrada, perdida. A própria ideia de nação, entre nós, parece algo ferida – e, em alguns momentos, rechaçada.
Verdade que são muitas as visões do significado de nação. Marx, por exemplo, desmantelou o conceito de estado – e dessacralizou o de nação. O marxismo vê a “nação” como mistificação das classes dominantes para manter as massas anestesiadas. A nação não passaria de superstição ideológica, além de ser uma pedra no caminho da realização da fraternidade comunista universal. Não ficarei neste extremo marxista, nem no extremo da celebração. Para meu propósito aqui, recorro ao socialista austríaco Otto Bauer e ao escritor tcheco Miroslav Hroch.
No texto “A Nação”, escrito em inícios do século XX, Bauer dá a sua definição de nação enquanto comunhão de destino: “Comunhão não significa apenas semelhança. A Alemanha, por exemplo, passou pelo desenvolvimento capitalista do século XIX, tal como o fez a Inglaterra. As forças que atuaram nessa direção foram as mesmas nos dois países e tiveram influência decisiva no caráter desses povos. No entanto, nem por isso os alemães se tornaram ingleses. A comunhão de destino não significa apenas a sujeição a uma sina comum, porém uma experiência comum do mesmo destino, em constante comunicação e em interação contínua uns com os outros. Tanto os ingleses quanto os alemães vivenciaram o desenvolvimento capitalista, porém em épocas diferentes, lugares diferentes e apenas com uma frouxa ligação uns com os outros. Assim, embora as mesmas forças propulsoras possam tê-los tornado mais parecidos entre si do que antes, elas não os transformaram num só povo. Não é a semelhança de destino, mas apenas a experiência e o sofrimento comuns do destino, uma comunhão de destino [atravessando linhas de classe], que criam a nação”.
Poucas décadas depois de Bauer, um elenco das mais brilhantes estrelas da antropologia norte-americana se empenhou nesse horizonte de estudos. Tomaram o “caráter nacional” como objeto privilegiado da análise antropológica, buscando demarcar e definir um padrão comportamental ou psicológico comum a toda uma sociedade, que a particularizaria diante das demais. Mas o interessante é que, ao transfigurar um território nacional em território cultural, ou fronteiras políticas em fronteiras antropológicas, eles constituíram a “nação” como objeto de estudo da antropologia.
Importante sublinhar que mesmo os mais recentes estudos sobre o assunto se movem no vasto campo desenhado por Herder, pelos românticos alemães, por Bauer e pelo chamado culturalismo norte-americano. Continuamos a converter espaços políticos em espaços antropológicos, considerando fronteiras nacionais como fronteiras culturais. E talvez não tenhamos mesmo como (nem por que) nos livrar disso. Afinal, a disposição para a conversão do político em antropológico, nesse caso, nem mesmo é formulação doutoral, culta. Ela se processa no cotidiano das pessoas comuns, onde se manifesta de forma intelectualmente obscura, mas, no plano da sensibilidade, com clareza e concretude. A pessoa sabe que é brasileira não pelo simples fato de ter nascido no Brasil. Ela sente isso em profundidade anímica, sentindo-se também inscrita numa teia viva de signos, sentimentos e formas compartilhadas, que configuram uma “identidade”, uma comunhão.
John Boreman, escrevendo sobre Berlim, distinguiu entre “nacionalidade” e nationness, referindo-se esta a interações e práticas cotidianas “que produzem um sentimento intrínseco e frequentemente não articulado de pertencer, de estar em casa”. É esta nationness que vemos e ouvimos, de modo fragmentário, sentimental e escassamente articulado, nos discursos verbais e nas condutas semióticas de nossas classes populares. E é deste espaço primário, denso e meândrico que se vão articular as teorias acerca do caráter e da identidade nacionais. Isto explica, ao menos em parte, o sucesso público dessas narrativas.
Ao mesmo tempo, há o influxo inverso: as ideologias da identidade, disseminando-se na vida social, também passam a estruturar pensamentos e condutas. Por esses caminhos, uma determinada tese ou ideologia pode produzir o seu efeito de retorno, afetar de volta a existência social. Existe de fato um jogo de “efeitos recíprocos” entre a realidade comunitária e as reflexões que procuram definir o que ela é, tanto em suas ondulações de superfície, quanto nos movimentos de suas correntes mais obscuras e submersas. Pode mesmo acontecer que um o discurso sobre a identidade descreva não o que somos, mas o que gostaríamos de ser – e nos atraia em sua direção, do mesmo modo que um orixá, enquanto arquétipo comportamental a ser seguido, vai redesenhando as condutas daqueles que são simbolicamente seus filhos. Vale dizer, a teoria também cria as suas criaturas.
Por tudo isso, Miroslav Hroch está certo quando trata a nação como uma “formação antropológica”. Não apenas as nações se formam afirmando especificidades históricas, étnicas e/ou culturais, como a demarcação de fronteiras políticas como que imanta o espaço geográfico demarcado, contribuindo para que o povo que se encontra dentro daqueles limites se sinta feito do barro daquela terra. E se a tese vale para uma situação interétnica típica, vale ainda mais para um país como o nosso, que vive ao abrigo de uma só língua e onde não vigoram cartas marcadas de etnias, no sentido estrito da palavra. Isto é, um país que não carrega nenhuma Catalúnia no seu espaço geográfico. O Acre tornou-se brasileiro há uns 100 anos. E hoje a população do Acre não é meramente classificada como brasileira – ela se vê, se sente e se define como tal.
Miroslav Hroch define “nação” como “um grande grupo social, integrado não por uma, mas por uma combinação de vários tipos de relações objetivas (econômicas, políticas, linguísticas, culturais, religiosas, geográficas e históricas)”, e pelo reflexo subjetivo dessas relações na consciência coletiva. Dentre os vínculos que embasam a unidade do “grande grupo social”, dois são indispensáveis para que uma nação se constitua e se mantenha como tal. De uma parte, “a ‘lembrança’ de algum passado comum, tratado como um ‘destino’ do grupo, ou, pelo menos, de seus componentes centrais”. De outra parte, “uma densidade de laços linguísticos ou culturais que permitam um grau mais alto de comunicação social dentro do grupo do que fora dele”. À falta dessas condições básicas, o que teríamos não seria uma nação, mas uma coalizão multicultural ou dominações étnicas dentro de um mesmo espaço político. Em outras palavras, uma nação se forma e se mantém a partir de uma história, uma língua e uma cultura comuns – ao menos, em seus traços distintivos essenciais. E aparece assim, na constelação das demais nações, como uma entidade histórico-antropológica. Como uma configuração antropológica dinâmica, sempre mutável a largos e longos prazos, mas se movendo a partir de suas matrizes básicas ou dos elementos centrais de sua tessitura de origem.
É justamente isso o que hoje se encontra em crise no Brasil, por conta de processos equivocados de reconfiguração e mudança. Já falei do processo de avacalhação sistemática a que temos submetido a experiência nacional brasileira. Mas outros processos convergem para esgarçar nossa “comunhão de destino”. Como não dá para falar de tudo, tenhamos em mente pelo menos as polarizações hoje reinantes no país. Uma série de polarizações, todas na pauta do binarismo maniqueísta: o “nós x eles”, em diversos figurinos da luta do bem e do mal, se expandiu nas mais variadas direções. E, em todos os casos, trata-se de um tipo particular de polarização. Porque sempre tivemos polarizações e conflitos entre nós, mas, em boa medida, polarizações conviviais, por assim dizer. Sim: devemos distinguir entre polarizações conviviais e polarizações excludentes. Vale dizer, entre polarizações passíveis de coabitação no espaço do país e polarizações que estabelecem como meta o despejo do outro – e, no limite, sua destruição. Podemos ver isso na presente polarização político-partidária e na também presente polarização religiosa. Aqui, a coexistência forçada não dissimula o desejo de sufocar para sempre o outro – se possível, providenciando o seu banimento do horizonte nacional.
Quando falo de polarização político-partidária e polarização religiosa, não posso deixar de situar o neopentecostalismo e o PT num mesmo horizonte sociológico. O PT e entidades como a Igreja Universal se afirmaram num processo em que as classes populares brasileiras passaram a dispensar tutores hierarquicamente bem colocados na estrutura geral da sociedade. Entrando no século XXI, o povão parecia raciocinar assim: se o presidente Lula é um dos nossos, não preciso de nenhum “professor” ditando minhas escolhas; se Edir Macedo é um dos nossos, não preciso de ninguém me dizendo o que é certo ou errado. O povo passou ele mesmo a eleger o bom e o ruim, a fazer escolhas autônomas e explícitas, com uma desenvoltura nunca vista antes. Daí a projeção inédita da música caipira e da chamada música brega, por exemplo. Tudo isso é parte da mesma coisa. Ninguém mais precisava ter vergonha de suas preferências, já que o presidente da república curtia telenovelas e programas de auditório. Sociologicamente, aconteceu uma formidável mudança cultural no país. O povão voltou as costas para o tal do círculo do bom gosto. E o que temos aqui, tanto no caso do PT quanto no da Universal, não é mais um populismo feito de ricos para pobres, ou de doutores para iletrados, como sempre aconteceu em nossa história, mas um populismo entre iguais, feito de pobres para pobres e de ignorantes para ignorantes.
No caso da polarização político-partidária, devemos lembrar que a linha demarcada pelo PT, dividindo o país entre um “nós” e um “eles”, foi uma jogada bolada entre a cúpula partidária e o marketing petista para desviar o foco do escândalo do mensalão. Não houve nada de parecido com isso na campanha de 2002, que apresentava um “lulinha paz e amor” falando de diálogo, harmonia, unidade nacional. E a divisão se impôs, favorecendo então o lulopetismo. Mas os ventos mudaram. Adiante, o “nós x eles”, comprado total e radicalmente pela direita, levou à vitória de Bolsonaro e ao fracasso do PT em 2018. Aqui, o feitiço do maniqueísmo virou-se contra o feiticeiro maniqueísta original.
Excludente é também o “nós x eles” no espaço da religião. Sempre tivemos atritos e conflitos religiosos entre católicos, macumbeiros, judeus, ramos tradicionais do protestantismo, como luteranos, batistas, presbiterianos, etc. Mas no campo das polarizações conviviais. Para não falar de alianças como a do cardeal Arns e do rabino Sobel em São Paulo, a de presbiterianos e católicos na Bahia (também contra a ditadura) ou a presença do então abade do Mosteiro de São Bento, Dom Timóteo, irmão de Tristão de Athayde, na Comissão de Defesa do Candomblé da Casa Branca. O panorama muda com a entrada em cena do neopentecostalismo. Aqui, nenhuma polarização é convivial. O evangélico encara o campo religioso como uma praça de guerra. E assim seus pastores e fiéis promovem espetáculos tristes e criminosos, que vão de chutes na imagem da Senhora Aparecida a invasões de terreiros de candomblé. Além do espírito bélico, uma coisa preocupante. Os evangélicos parecem não ter qualquer compromisso essencial com a nação. Nunca vi igreja neopentecostal ou pastor evangélico concentrado em temas nacionais, discutindo a questão amazônica, o problema energético brasileiro, nossa movimentação no sistema das relações internacionais, a necessidade de inovação tecnológica, nada disso. Parece que a única preocupação real dos evangélicos é se dar bem e converter os demais.
Temos ainda as polarizações identitárias. E o discurso identitário é também um discurso binário e maniqueísta. Os identitários se acham moralmente superiores ao resto da humanidade. Veem-se como a própria encarnação do Bem. Comportam-se como se o “oprimido” fosse um ente sagrado: o portador da verdade, do sentido e do destino histórico da humanidade. Quem se vê assim, não tem o que aprender no mundo. Daí que a esta autoconsagração se alie a ignorância. Daí também que, quando questionada, essa gente reaja não com argumentos, mas com xingamentos. Trata-se de asfixiar qualquer discordância. E adotam essa postura moral para atropelar os mais elementares princípios éticos. Vejam então qual é a estratégia discursiva do identitário: a afirmação de “status” através da afirmação da inferioridade social. A autovitimização como um atalho para a autonobilitação na figura sofrida e heroica do “oprimido”. Havia algo disso já na esquerda tradicional, num certo endeusamento do proletariado.
A diferença é que a esquerda tradicional endeusava o proletariado, enquanto os identitários endeusam-se a si próprios. Acham-se donos da verdade, moralmente superiores ao resto da espécie humana e querem dominar o mundo. Quando uma pessoa é capaz de se convencer de uma coisa dessas, ela se converte em fanática. E o fanatismo se guia por uma perversão lógica tão insustentável quanto inflexível. Acha que vale tudo para impor o “bem” e destruir o “mal”. É uma postura comparável à dos evangélicos agredindo o candomblé.
Outro ponto é que os identitários não têm uma percepção global da sociedade. Pensam e operam de forma fragmentária, canonizando seus próprios guetos. Suas reivindicações não levam em conta a população brasileira, mas apenas os desejos e interesses deles mesmos. Veja-se o chamado “Estatuto da Igualdade Racial”. Aquele papelucho elaborado por racialistas neonegros está de costas para a sociedade. Todas as políticas compensatórias ali propostas beneficiam exclusivamente a “população negra”. Isto é, da perspectiva dos pretos que formularam o documento, inexistem índios e descendentes de índios no Brasil. Daí que o panorama seja de atomização. De pulverização total. Pulverização da nação, inclusive.
Para o identitarismo, a nação é uma criação artificial opressora que encobre as muitas “nações” que existem no seu espaço. A ideologia multiculturalista aponta para a dissolução do conjunto nacional. Porque, mesmo dentro de uma cidade-estado ou de uma república-aldeia mínima, o identitarismo se verá obrigado a reconhecer a existência de “nações” distintas, como a das mulheres ou a das bichas. O anarquismo, mesmo no extremo do anarquismo individualista, se pensa a partir de uma unidade básica, que é o indivíduo. Já para o identitário-multiculturalismo, o “indivíduo” é algo genérico demais. Não existe o indivíduo, mas o preto-indivíduo, o veado-indivíduo, etc. E seus desdobramentos “interseccionais”: mulher-preta-lésbica-indivíduo, por exemplo.
Existem algumas leituras do tema, mas uma em particular me atrai. Quem a sugeriu foi o sociólogo Jessé Souza. A sociologia weberiana dá forte ressalte, em sua leitura do protestantismo ascético triunfante nos Estados Unidos, ao espírito de seita. À “capacidade protestante sectária de associação para fins de interesse comum”. É um associativismo que se funda não em base afetiva, mas em relações “horizontais” de interesse – indivíduos da mesma classe social ou do mesmo grupo profissional, por exemplo. Para Max Weber, a confiança intersubjetiva é produto do espírito de seita, por oposição ao princípio da fraternidade universal do catolicismo. E Weber vai ver nos Estados Unidos o reino por excelência desse espírito de seita, com seu típico associativismo exclusivista – que se expande em todas as direções, para além da esfera religiosa. Vale dizer, ocorre a secularização do espírito sectário, com “a filiação religiosa acrescida ou substituída pela filiação às mais diversas associações, sociedades, clubes e universidades”. E é a exacerbação do associativismo sectário exclusivista que está na base da disposição multiculturalista para instaurar apartheids. O fragmentarismo identitário é produto do puritanismo anglo-saxão, do protestantismo ascético calvinista, correndo nas baias do associativismo sectário.
Mas vamos finalizar. A nação não é eterna, claro. Mas, neste momento da vida do Brasil e do mundo, ainda é fundamental. Ao mesmo tempo, uma nação tem de se pensar como uma conquista permanente. Como um “plebiscito diário”, como dizia Renan. É preciso definir então que direção dar às mudanças. A pergunta é: que nação nós queremos? Penso que, no caminho para responder a esta pergunta, teremos de recuperar nosso passado, recuperar nossas grandezas, inclusive para expor socialmente o legado democrático.
Agora, para se reinventar, o Brasil precisa de uma tremenda mudança de mentalidade com relação a si mesmo. “Metánoia” era a palavra grega para isso. Mudar a mentalidade: esta será uma formidável luta ideológica e cultural. Não para voltar atrás, mas para ajustar as coisas. Porque sem um repensamento vertical da nossa história e da nossa sociedade, com vistas a uma reinvenção da nação, não iremos a lugar algum. Para enfrentar nossas desigualdades ou dar nosso recado ao mundo, precisamos nos reinventar como nação. Até para sonhar com o ideal utópico de uma federação mundial de nações, fundada na solidariedade planetária, é preciso ter uma nação. Um sentimento de pertencimento. Uma “comunhão de destino”.
(Conferência na Academia Brasileira de Letras – Rio de Janeiro – março 2020).
fonte: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=869670430160576&id=100013528815359